Projeto cultural que nasceu do desejo de transformar a Usina Cultural Energisa em um ponto pulsante de encontros, criação e memórias. Criado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, o projeto oferece uma programação cultural e de formação gratuita, reunindo diferentes linguagens artísticas e promovendo o acesso à arte como ferramenta de transformação coletiva.







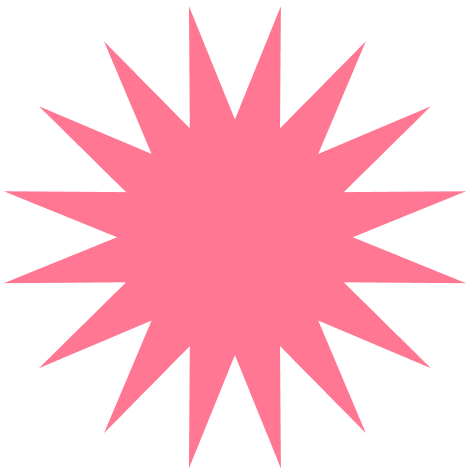
Missão e objetivos
Formação de Plateia
O Usina Viva busca desmistificar os espaços culturais e promover o acesso à arte para todas as idades, oferecendo programação gratuita e acessível. Nosso objetivo é formar plateias engajadas e aproximar a comunidade das diversas linguagens culturais.
Valorização da Cultura Local
Reconhecer e impulsionar os talentos artísticos de Nova Friburgo e região, criando oportunidades para que artistas locais compartilhem suas obras, saberes e histórias, fortalecendo a identidade cultural e a economia criativa da região.
Diversidade e Inclusão
Fomentar um ambiente cultural plural, que abrace diferentes linguagens, corpos e narrativas, promovendo a representatividade e o diálogo entre diversas expressões artísticas, com atenção especial às vozes historicamente marginalizadas.
- Fique por dentro
Memórias da Usina Viva
Próxima Parada: Usina Viva
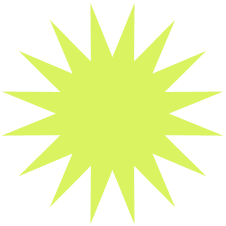

EVENTO ENCERRADO
Arthur “Toots” Schottz (BRAVOZULU) e Pedro “Pedrão” Buery (Satta Hi-fi) são os fundadores dos primeiros sistemas de som de Nova Friburgo e somam quase 20 anos de história no movimento jamaicano.
- 20h
- 06/12/2025
- Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 - Centro, Nova Friburgo

EVENTO ENCERRADO
Trio feminino de forró pé de serra com um repertório que passeia pela MPB e por ritmos brasileiros como coco, carimbó e ijexá. Valorizando especialmente obras de mulheres, o grupo leva ao público apresenta-ções leves, cheias de alegria e sempre celebrando a amizade e a presença feminina na música.
- 19h
- 06/12/2025
- Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 - Centro, Nova Friburgo

EVENTO ENCERRADO
Para conduzir esse momento, teremos o olhar sensível das juradas Maria Fernanda, da Genipapo Livraria, Jeyce Valente, nossa instrutora da Oficina de Escrita Criativa, e Márcia Lobosco, do Instituto Leituras.
- 17h30
- 06/12/2025
- Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 - Centro, Nova Friburgo

EVENTO ENCERRADO
Nascido no morro do Cordoeira, presente na cena há mais de uma década, ele faz da própria vivência nas favelas de Nova Friburgo a matéria-prima de uma literatura honesta e suburbana.
- 19h30
- 05/12/2025
- Paraça Pres. Getúlio Vargas, 55 - Centro, Nova Friburgo
ALGUNS DEPOIMENTOS DA CABINE DE MEMÓRIAS
Concurso Literário: Finalistas
Antes
Antes da cidade era vila,
antes da vila, fazenda.
Antes de tudo era mata
e, na mata, uma senda.
As montanhas são as mesmas,
os rios já estavam aqui,
mas tinham outros nomes,
nomes do povo Puri.
Não havia muro ou cerca,
nem terrenos demarcados.
O tempo em que a terra era livre
na partilha dos Coroados.
Um dia chegaram brancos,
uns de paz, outros de guerra.
Vindos de muito longe,
tomaram posse da terra.
Chegou também um rei (rei de quem?),
Decidiu, a partir de então
viveriam aqui os colonos,
quem nunca pisou este chão.
Essa história conhecemos,
duzentos anos distantes,
que Friburgo nunca esqueça
da história que veio antes.
Melhor poesia 🏆
A montanha
Um dia, respeitoso, perguntei:
“Elefante, Pedra Larga,
O que seus olhos assistiram
desde que a cidade nasceu?”
Para meu espanto, a montanha falou.
“Eu vi a mata que sumia, aos poucos,
e gente, cada vez mais gente,
como formigas a meus pés.”
“Eu vi máquinas, concreto e aço.
Vi a terra encharcada desmoronar.
Eu vi sangue, injustiça e dor.”
“E nada mais digo, pequenino,
porque sou rocha e silêncio.
Me admire, apenas.
Vocês vão, eu fico.”
O som do rio
O som do rio, bem pertinho, me agradava
Sempre pensava nisso antes de dormir
Minha mãe, eu não entendia, não gostava
Sempre rezava muito pra chuva não cair
Da janela, eu via um morro e uma mata
Que com meu pai planejava desbravar
Em qualquer fim de semana, em qualquer data
Em que ele pudesse e não precisasse descansar
Mas a vida, que hoje eu sei, é tão ingrata
Não compartilhava do meu gosto e dos meus planos
O som da chuva e o som da reza, eu sempre lembro
Nunca me esqueço, mesmo após tantos anos
Minha mãe, nervosa, me acordou aos gritos
Levantei da cama já com água na cintura
Meu pai exausto, carregava o que podia
E eu, aflito, me perguntava o que havia
Perdemos tudo na enchente aquele dia
Os bens e a família, tudo de uma vez
Sem esperança, minha mãe não mais rezava
E o meu pai se entregou à embriaguez
Após um tempo, meus pais se separaram
Com minha mãe, decidi permanecer
Quando sobre ele eu perguntava, ela evitava
Só dizia “Vai ser o que tiver que ser”
Nunca mais eu gostei do som do rio
Sempre fico ansioso quando uma chuva forte cai
Minha mãe voltou pra igreja. Eu sempre adio
E nunca desbravei uma floresta com meu pai
Anos depois, vejo o rio canalizado
E um condomínio onde era aquela floresta
A minha história é mesmo coisa do passado
Ao contrário da tristeza que ela sempre manifesta
Aquela enchente não levou só nossa casa
Levou o que a gente era e o que era pra gente ser
Com esses versos, tiro a memória da lama
Pra nunca mais essa tragédia acontecer
MULHER DA FACA
Isa, Isa, Isa.
Isa da faca,
Dos pássaros fritos que caçava.
Isa das mãos calejadas, agitadas em frenético bailado.
Mãos sofridas, mãos carentes.
Olhos vazios, boca gemente.
Isa da saia longa açoitada pela dor.
Isa que assustava de dia e de noite,
Em sonho e realidade.
Tinha medo, metia medo.
A mulher da faca, da vara, da coragem fingidora,
Camuflada em seu espetáculo,
Caminhava nas pedras brutas do descaso.
Isa menina, mulher e anciã
Guardada na casa, Casa dos Pobres.
Melhor conto 🏆
Fios do Bengalas
Em Nova Friburgo, onde o ar cheira a pinho úmido e linhas recém-tingidas, as memórias
não morrem; elas se dissolvem como névoa no Rio Bengalas, esperando um vento para se
unirem outra vez. Minha avó Sofia contava essas histórias à beira da janela, com os dedos
traçando padrões invisíveis no ar, como se ainda tecesse véus na Fábrica Filó. “O rio une
fios que os homens separam”, dizia ela, os olhos azuis de Veneto nublados pela serra. Mas
minha mãe, com sua tesoura afiada de prático, cortava o fio: “Histórias velhas, filha. O que
passou, passou. Não vale o novelo.” E assim, as noites de sussurros viraram silêncios, até
que, em 2025, num porão da Usina Cultural Energisa, um retalho amarelado reacendeu
tudo. Toquei-o, e o Bengalas sussurrou de volta.
Era outono de 1956, e o prefeito Feliciano Costa, de bigode galante como um gondoleiro de
ópera, proclamava a Festa Veneziana como “o laço europeu que abraça nossa alma
serrana”. Homenagem aos imigrantes que teceram a colônia suíça e italiana nas encostas
fluminenses, a celebração transformaria o Rio Bengalas em canais caprichosos. Diques de
terra e madeira represavam suas águas preguiçosas, criando veias azuis ladeadas por
lanternas de papel e gôndolas emprestadas de Petrópolis. A cidade efervescia:
descendentes de Genebra bufavam para o “romantismo excessivo”, enquanto famílias de
Veneto assavam polenta nas margens e vertiam vinhos das encostas vizinhas. Na Fábrica
Filó, às margens do rio, o ronco das máquinas Singer misturava-se ao burburinho. Lingerie
fina e véus para as damas da festa, urdidos por mãos calejadas como as de Sofia.
Sofia tinha 22 anos, neta de italianos que fugiram da Grande Guerra. Aquelas trincheiras
alpinas que devoraram pais e avós, deixando fome e sonhos partidos no porão de um navio
para o Brasil. Órfã desde menina, ela costurava na Filó com a precisão de quem tece
armaduras: sedas azuladas como o Bengalas, bordadas em rendas que fingiam eternidade.
Mas sob o avental, um segredo pulsava como um novelo apertado; nossa menina que tão
cedo aprendeu a ser adulta, estava grávida de Manoel, mestiço Puri de 25 anos,
descendente de caçadores que se refugiaram nas sombras das montanhas vizinhas após a
expulsão real de 1818. Ele pescava na foz do rio, longe da fábrica, carregando redes de
cipó entalhado com padrões ancestrais. Seus encontros eram rituais ribeirinhos, possíveis
só graças às navegações noturnas do Bengalas que era o único caminho viável entre as
pontas opostas, sob luas que testemunhavam sussurros de amor mestiço.
Na Filó, Sofia foi incumbida dos estandartes das gôndolas: sedas tingidas no azul do rio,
com detalhes que ela inventava em segredo: cipós puris serpenteando entre gôndolas
etéreas, um mapa sutil de seus amores. Roubava fios ao entardecer, tecendo um xale
protetor para o ventre que crescia. “Arranjei uma casinha nas matas, Sofia”, sussurrava ele
nas noites de remo. “Telhado de palha, vista pro curso d’água. Lá, ninguém julga o fruto do
rio.” Fugir durante a festa era o plano: remar rio acima nas gôndolas abandonadas, longe
dos olhares da fábrica. “Costureira solteira, grávida de caboclo”, diriam as fofoqueiras,
rasgando sua dignidade como um pano ruim.
À noite da inauguração, uma garoa fina caía, fazendo as lanternas tremularem como almas
indecisas. A celebração irrompeu em valsas sobre balsas improvisadas, a voz potente de
um tenor paulista cortando a brisa úmida, pratos de polenta fumegante passeando entre
casais. O prefeito, em gôndola real cravejada de luzes, ergueu uma taça: “À Veneza do
Bengalas, onde fios europeus se unem à terra brasileira! Que o rio una seus fios!” A frase
ecoou como um mantra, repetida pela multidão em brindes embriagados. Sofia, entre as
ajudantes da Filó, remou uma gôndola pelos recantos escuros do canal, o coração batendo
no ritmo das águas. Manoel esperava com um remo de cipó, os olhos escuros como o
ventre da serra. “A casinha é nosso novo tear”, murmurou ele, tocando a barriga dela.
“Fugimos hoje, pro filho nascer livre.”
Mas o pavor cresceu como cipós rebeldes. E se alguém da Filó visse? E se o julgamento
seguisse como sombra? O prefeito passou em seu giro festivo, avistando-os de relance na
penumbra. Confundiu-os por um par de imigrantes valsando à beira d’água e sorriu
bondoso, erguendo a mão em bênção: “Que o rio una seus fios, meus filhos! Que ele teça o
que o tempo solta.” As palavras caíram como orvalho, mas para Sofia foram faíscas, um
clarão de esperança misturado a terror. Num ímpeto, rasgou um canto do xale, soltando fios
na água que apagaram uma lanterna próxima. O clarão efêmero iluminou o canal, e a
multidão ovacionou como encanto planejado. Mas o pior veio depois: rumores de enchentes
levaram à ordem de cancelar as navegações noturnas. Sem barcos, a ponte frágil de seus
encontros rompeu-se; a casinha virou miragem distante, a fuga, sonho adiado pela maré do
progresso.
Os fios soltos flutuaram na superfície, tecendo visões breves: ancestrais puris remando ao
lado de gondoleiros espectrais, murmurando que o ventre de Sofia carregava não só um
fruto de paixão, mas o rio inteiro. Um laço que nem diques nem julgamentos rompiam. “Que
o rio una seus fios”, ecoou o mantra na água, como profecia.
A festa azedou na euforia com uma chuva torrencial, que estourou os diques como um
lamento das montanhas vizinhas. O Bengalas, libertado de sua forma aprisionada, devorou
lanternas e gôndolas num vórtice suave, mas implacável. Sofia e Manoel separaram-se na
corrente. Ele foi lançado para a margem roceira; ela, resgatada por colegas da Filó,
encharcada e trêmula. Sem as navegações, os encontros viraram sussurros esporádicos
pelas matas, e o desespero os cercou: a barriga crescia, os olhares na fábrica aguçavam-se
como agulhas. Mas o amor dá um jeito, como só os amantes da serra sabem. Manoel,
persistente como o cipó, construiu uma trilha secreta pelas sombras das encostas,
arriscando chuvas e trilhas traiçoeiras para alcançar a casinha. Casaram-se numa capela
ribeirinha, com um padre bondoso que abençoou o “fruto do rio” sem perguntas. Sofia pediu
licença na Filó, virando costureira autônoma na casinha de palha, tecendo véus que
misturavam cipós puris a rendas italianas. Vendia suas peças nas feiras, sussurrando o
mantra para o filho que nasceu forte, com olhos do Bengalas: “Que o rio una seus fios.”
Anos se passaram como novelos se desenrolando. Sofia virou a “mestra das flores
ribeirinhas”, cujas criações ecoavam a festa em lendas locais, mas o romance se apagou
como névoa matinal, diluído em netos que herdam só os padrões sem as histórias. Ela
contava tudo para mim. Ouso dizer, sua neta predileta. Suas histórias de amor, o clarão no
canal, a bênção do prefeito, o jeitinho que teceu uma família discreta, entrelaçada à cidade.
Minha mãe se empenhava em cortar o fio: “Passado é pano velho, não se remenda”. Por
vezes o segredo de minha avó, também era meu segredo.
Até 2025, quando, voluntária na Usina Cultural Energisa durante as reformas, desenterrei o
baú no porão úmido. O retalho do xale, amarelado mas intacto, tocou meus dedos como um
sussurro vivo. Uma visão brotou: o rio reconta os encontros, os “jeitinhos” que uniram puris
e italianos num sangue novo, o mantra ecoando nas águas. A história reacendeu,
flamejante como uma lanterna no canal. Decidi mantê-la viva, não mais em palavras
cortadas, mas em fios reais. Costurei um novo estandarte para o festival anual do rio: não
mais veneziano, mas “Bengalas”, entrelaçando cipós indígenas em sedas europeias,
padrões que honram o hibridismo de Friburgo.
O prefeito atual, um eco bondoso de Feliciano, sem o bigode galante, inaugurou-o à beira
d’água, erguendo as mãos sob a garoa fina: “Que o rio una seus fios!” A multidão aplaudiu,
e nas águas, sombras de gôndolas dançaram com remos de cipó. O Bengalas não apaga;
ele umedece as memórias, para que brotem, devagar, em novas tramas.
A Ama do Menino Imperador
O inverno na serra era frio e úmido quando o mensageiro chegou à pequena Vila de
Nova Friburgo, numa localidade conhecida como Amparo, trazendo consigo um selo da
Corte e um pedido que ninguém ousaria recusar. A carta vinha assinada por ordem da
imperatriz Leopoldina e pedia algo inusitado: uma colona suíça, puérpera, de saúde
robusta e bons costumes.
A notícia correu rápido entre as casas de madeira, descendo pelas ladeiras e cruzando os
campos verdes da colônia. As mulheres cochichavam nas portas, os maridos se
entreolhavam — não era todo dia que o destino do Império batia à porta de um
imigrante. O mensageiro, sério e de botas enlameadas, explicava a missão:
— A escolhida deverá guardar sigilo absoluto sobre o que verá e fará na Corte. Nenhum
nome, nenhuma lembrança poderá ser contada. Em troca, receberá vultosa recompensa e
o reconhecimento de Sua Majestade.
Entre as famílias, três nomes se destacaram: Doline Bellet, moça de rosto sereno e mãos
calejadas; Marie Françoise Cretton, conhecida por sua força e por criar filhos saudáveis;
e Marie Catherine Equey, de olhar doce e alma firme. Foi ela quem subiu à carruagem
que a levaria ao Rio de Janeiro, sem saber que aquele leite que corria de seu peito
alimentaria não apenas um bebê real, mas também uma história que duraria séculos.
No Paço de São Cristóvão, Dom Pedro I chamava-a respeitosamente de “dama”. A
suíça não compreendia bem o português, mas entendia o tom de gratidão. Cuidou do
pequeno Dom Pedro de Alcântara com a paciência de mãe e a devoção de serva.
Quando o menino dormia, ela fitava seu rosto e pensava nas montanhas brancas, nos
lagos imóveis, nos vales da Suíça alemã — que eram apenas retratos na memória.
Às vezes, as lágrimas lhe vinham discretas. Tinha saudade da sua casa, da cidade que a
acolhera, das montanhas exuberantes em tons de verde, do céu de infinito azul, do
cheiro do feno úmido, da voz do marido, do filho que deixara para trás em Nova
Friburgo.
Quando Pedro tinha apenas um ano de idade, poucos dias depois de ter abortado um
bebê menino, a imperatriz Leopoldina morreu. O pequeno Pedro cresceu sem nenhuma
memória da mãe, sabendo apenas o que as pessoas comentavam e contavam sobre ela,
mas guardava o afeto de Marie Catherine.
A vida seguiu. De volta à colônia, Marie Catherine guardou em silêncio as lembranças
da Corte — um medalhão com mechas do cabelo do bebê imperador, uma pequena cruz
e algumas cartas de agradecimento. Jurara segredo e cumpriu até o fim dos dias.
O marido morreu de malária, conhecida na época como “febre de Macacu”, e o filho,
nunca mais o encontrou. Soube que, em sua ausência, ainda pequeno, fora levado para
um orfanato mantido por missionários. A casa ficou vazia. As mãos que um dia
embalaram o herdeiro de um trono agora repousavam sobre o colo, sem saber o que
fazer.
Com o passar dos anos, Marie Catherine tornou-se uma figura discreta entre os colonos.
Casou-se novamente, teve um casal de filhos, e andava devagar pelas vielas de Amparo,
sempre de lenço branco e olhar distante. Quando o vento frio da serra soprava, parecia
trazer ecos de uma língua que ela não esquecia — o alemão suave de sua infância. Nas
noites longas, acendia uma vela diante da pequena cruz e murmurava preces por todos
os filhos que não pôde criar: o seu e aquele que o destino lhe confiara por um breve e
eterno instante.
Somente quando ela morreu o mistério começou a se desfazer. Os herdeiros de Marie
Catherine encontraram os objetos que ela guardara com tanto zelo. Dentro do medalhão,
os fios dourados do menino Dom Pedro, intactos pelo tempo. Mais tarde, escritos do
próprio imperador confirmariam o que poucos sabiam: ela também fora ama de leite da
princesa Paula Mariana, irmã de Pedro II.
Como prova de reconhecimento, a Casa Imperial concedera-lhe uma pensão que ela
nunca usou — e o respeito do imperador jamais se perdeu.
Conta-se que, anos depois, já adulto e soberano, Dom Pedro II retornou à serra em uma
de suas viagens de inspeção. Ao visitar o distrito de Amparo, em Nova Friburgo,
procurou sua ama de leite que ainda vivia ali, já muito velha e com a saúde fragilizada.
Foi ao seu encontro. As crônicas dizem que ele a chamou pelo nome e que, ao vê-lo, ela
chorou como se visse o próprio filho. Nenhuma palavra. Nenhuma história contada.
Entre o nevoeiro e o frio das montanhas, os dois se abraçaram — o homem e a mulher
que, por um instante no tempo, haviam sido mãe e filho.
E, quando o imperador morreu, deixou atrás de si mais do que lembranças: deixou uma
história que o povo da serra ainda conta, baixinho, descrente, nas varandas e rodas de
conversa, como uma lenda — a história da dama do leite, a suíça que amamentou um
império.
Melhor obra 🏆
O Gosto do Sol
Qual é o gosto do sol?
Lô Borges partiu em seu trem azul para o infinito. Essa primavera nunca foi tão fria; Nova Friburgo em seus dias clássicos. Rabisco, com o indicador, um girassol no vidro embaçado da minha janela do quarto. Tantas referências, lembranças… A chuvinha fina celebra o luto que recai sobre meus ombros. Sento no tapete, em posição de flor de lótus, e abro a parte inferior da minha estante. A porta esganiça um ruído desafinado. Faz tempo, eu sei. O cheiro de guardado me apunhala: sou uma farsa. Proclamo a cultura aos sete ventos, organizo saraus, leciono Literatura, canto, etecetera e tais, e olha só pra isso: a pedra angular da minha formação ali, empilhada no fundo de uma estante, virando banquete de fungos. Por que a gente tem esse típico impulso de reverenciar um músico só quando ele vai compor o coro dos anjos? Meus vinis, tão raros, tantas histórias. Fora a vitrola retrô toda empoeirada, num canto da casa. Colecionador de araque! Vai ver minha esposa é quem está certa, sabe. Minimalista, não suporta qualquer meio monte acumulado, seja do que for. “Se não usa, não serve de enfeite e só ocupa espaço… vende ou doa!”. Mas como ceifar a raiz? Só de pensar sinto escorrer de mim a seiva da natureza abatida. Malditos Spotifys da vida que me tornam um ser infiel à minha própria origem. Retiro as histórias do cárcere. Tim, ah, esse Tim, 1970! Meu pai amava ouvir, queria que eu deixasse pra ele, até parece. Hermeto, outro que se fez saudade há pouco tempo… Gal, Benito di Paula, ah, Benito! Fiz recentemente um espetáculo sobre sua vida, como é bonito o Benito! Outro dia mesmo tomei um café com o irmão dele, o Ney, lá na padaria Santa Izabel. Boa praça toda vida. Opa, é esse. Finalmente… esse é o meu Clube da Esquina. Meu primeiro grande amor. Herdei esse disco do meu avô no dia que anunciei que tinha passado pra faculdade de Letras. Meu avô abriu mão de algo tão precioso pra ele, embora, muito sábio, reconheceu que “arte se passa adiante”. Falou que aquele disco seria minha segunda faculdade. Foi muito mais que isso. Abraço o disco como o pai que abraça o filho pródigo que retorna ao lar. Peço perdão aos deuses e ao meu avô por esse sortilégio e sinto como se o disco já rodopiasse com a agulha vivaz do meu coração. Tiro a poeira da capa e fixo meu olhar no olhar daqueles garotos. Aqueles garotos.
Tonho e Cacau. Meu avô batia o pé que aqueles dois garotos eram Lô Borges e Milton Nascimento. Descobri tempos depois que o dito Lô se chamava José, apelidado de Tonho, um repositor de congelados no mercado Casa Friburgo. E o Bituquinha, na verdade, era o Antonio, conhecido como Cacau, jardineiro e pintor. Cacau está sempre fazendo seus bicos, ora plantando a rosa, ora pincelando rosa. Viro a capa do disco. No rodapé direito, dois autógrafos e uma dedicatória de letra bem tremida que diz assim: “Obrigado pelo gosto de sol que você me deu”. Isso é poesia, santo Cristo. Poesia! A lágrima pinga bem no “Lô”, mas não choro sua morte. Algo de pungente me toma, sinto o luto, mas não, não é pelo Lô. É um pranto doído da morte de quem ainda nem terminou de quitar a passagem de ida. Da morte lenta e permanente que habita os dias. O olhar daqueles garotos. O cenho franzido de Cacau, a tristeza se disfarçando em mera bravata. O pão seco na mão de Tonho. Terá gosto de sol? O mesmo sol que crispa em suas peles tão distintas. Que sol é esse que brilha tão desigual? Que ilumina a fazenda de Ronaldo Bastos e (as)sombra seus criados?
Um dia resolvi ajudar aquele garoto. O Bernardo. Ele saía da sala de aula amuado, certo de seu destino: a segunda reprovação. Entregava-se como quem se joga de uma ponte. Outro dia não soube responder qual era o seu sonho. Limitou-se a dizer que não tinha e ponto. Que criança não tem sonhos aos nove anos de idade? O boletim afundava de vez a autoestima daquele menino tão dócil e tão melancólico. Ofereci meus préstimos. Tempo, tenho pouco, mas do pouco que me cabe, sempre cabe a mais um. Marcamos na biblioteca municipal. Aproveitei e apresentei para ele alguns livros essenciais. Reforcei sua alfabetização. Ensinei continhas, ciência, história e geografia de Nova Friburgo. Passei o feijão com arroz, temperei com amor e recebi em troca o maior pagamento que um funcionário público da educação pode receber. O Bernardo passou de ano. No dia da formatura dele, levou como convidados os seus pais e o seu avô. Fez questão de trazê-los até a mim e dizer, com gosto, que eu tinha sido o seu salvador, “o seu Jesus”. Achei bonito aquilo. Então o seu avô, um homem negro alto e forte, a barba bem feita, uns 50 anos eu chutei; seu avô se aproxima e me pede um abraço. Foi tão genuíno. Olhei para aqueles olhos marejados e, me lembro vividamente disso, tive uma sensação tremenda de já ter cruzado com aqueles olhos. “Somos muito agradecidos a você. Quero que venha na minha casa, é casa de pobre, mas é casa de gente boa. Eu e minha esposa vamos te servir uma galinhada daquelas. E não aceito não como resposta!”. Como se eu fosse me fazer de rogado! Nas entranhas do Amparo, lá eu estava, descendo do ônibus e ainda ciente de que teria de andar um bom pedaço do ponto até o endereço. Estradinha de chão e um clima de roça que eu, ser tão urbanóide, rato de shoppings, cinema e afins, chegava a estranhar. Aquele lugar, para mim, era uma nova Friburgo, literalmente. Cheguei e, à moda antiga, bati palmas. A casinha era uma belezura, um jardim tão bem cuidado na fachada, as paredes de um verde tão acolhedor. Fui recebido como rei. Aquele homem e sua esposa me deram uma lição de humildade. Lá também estavam Bernardo e seus pais. Durante o almoço, conversa vai conversa vem, surge uma preocupação entre eles. Um telefonema. Um advogado dando uma notícia, algo assim. O cenho franzido de Tonho. Desabou à cadeira, olhando pro nada. Me sentindo deslocado, tive que perguntar: “desculpe, mas… faleceu alguém da família de vocês?”. E ao que Tonho me responde: “faleceu a esperança”. Ele pediu licença e disse que precisava falar com Cacau. Todos acompanharam o homem combalido, exceto Bernardo, que ficou fazendo sala para mim e, de um jeito meio confuso, me explicou o acontecido. “Acho que não vão pagar nada pra eles. Meu avô tinha prometido fazer um piscinão pra mim. Que droga”. Depois a mãe de Bernardo me detalhou tudo. Os garotos da capa do álbum Clube da Esquina, hoje homens formados, processaram a gravadora, Lô Borges e Milton Nascimento pela imagem difundida sem a autorização deles ou de seus responsáveis, à época. Um juiz de Nova Friburgo bateu o martelo e deu a causa deles como perdida. “Caducou, coisa assim”, lamentava-se Tonho. Lembro-me de ter saído daquela casa tão avoado com toda a história… eu simplesmente estava dentro do Clube, dentro do disco da minha vida, ali, ao lado de um dos garotos da capa! Como eu nunca soube? Vivo na mesma cidade que eles, dou aula para o neto de um deles. Eles nasceram e viveram em Friburgo a vida inteira! E o pior: como eles demoraram tanto para descobrir? Os próprios garotos, fotografados por Cafi, em 1971, à margem de uma fazenda de Nova Friburgo, só foram se dar conta de que faziam parte do disco mais famoso do Brasil quarenta anos depois daquele clique. “Eles vieram num fusca, gritaram a gente e tiraram a foto”, disse Cacau, em um dos encontros que tivemos depois. Tonho me apresentou seu velho e bom amigo. Já estavam mais conformados. Riam dos planos que chegaram a fazer com a bolada que esperavam receber. “Eu só queria comer meu pãozinho em paz”, riu-se Cacau, referindo-se à capa. “Eu continuo com essa ideia, meu amigo. Só quero continuar comendo o meu pãozinho em paz”, encerra Tonho, num riso agridoce.
Cuidadosamente, encaixo o disco na vitrola. Ajusto a agulha. Coloco na faixa “Um Gosto de Sol”.
“Alguém que vi de passagem
Numa cidade estrangeira
Lembrou os sonhos que eu tinha
E esqueci sobre a mesa”
Com a capa nas mãos, leio de novo o dizer que Cacau autografou para mim: “Obrigado pelo gosto de sol que você me deu”. Eu fui a primeira pessoa a pedir um autógrafo para eles. O que é o gosto do sol? Para Cafi e Ronaldo Bastos, foi a lembrança da infância que aquelas crianças, que “viram de passagem”, despertaram neles, ocasionando a foto histórica. Para Milton e Lô Borges, o sucesso estrondoso do disco. E para Tonho e Cacau? O que é gosto do sol para meros desconhecidos tão conhecidos? Que valor tem o sol para uma história que pereceu à sombra? Bem, talvez não haja um sol para todos, como dizem. Mas há muitos sóis por aí. O gosto do sol experimentado por Tonho e Cacau foi o reconhecimento de um homem comum. Um simples professor de literatura concursado, por cujas mãos passam tantas e tantas vidas, sonhos, necessidades, anseios. Um homem que influencia o futuro de tantos outros homens e que talvez jamais receberá uma nota no jornal. Talvez, daqui a alguns anos, sequer seja lembrado pelos alunos que formou.
Em nosso último encontro, Bernardo pegou o celular da mãe e me fotografou, me pegando desprevenido. Eu estava de papo com seu avô, segurando uma xícara de café. Olhei de soslaio e dei um meio sorriso. “Não sou nada fotogênico, Bernardo, apaga isso”. E ele me disse: “não vou apagar não, professor. Quero ter sua foto sempre pra eu me lembrar de quem eu sonho ser um dia”.
Ora, ora, agora Bernardo tem um sonho.
Vai ver é isso. Sempre haverá um sonho para iluminar sua história.
O que a terra não apaga
A terra lembra aquilo que os homens tentam esquecer. Antes que os brancos
cortassem a serra com seus passos, meu povo caminhava leve, Puris de pés
atentos. Sabíamos o pulso das águas, o chamado dos pássaros, o silêncio que
cura. Meus pés conheciam cada raiz, pedra e curva desse caminho que, para mim,
era ancestral. A mata era mãe e irmã.
Naquele tempo, as árvores se inclinavam como avós silenciosas, e cada
pedra polida pelo rio trazia saberes que viajavam pelas noites de histórias. A trilha
não era só caminho: era conversa. Foi assim que cresci, escutando.
A serra respirava conosco. Caminhávamos sem ferir o chão. A gente sabia o
recolhimento da névoa, o frio da água nas pedras fundas, o primeiro toque da lua
quando vinha. Tudo tinha sentido e escuta.
Lembro-me do caminho do peixe, por onde os Coroados vinham trocar
histórias. Do alto da serra, onde os Coropós deixavam oferendas. Era tudo vivo e
inteiro. Quando os brancos chegaram, trouxeram pressa. Tinham uma outra fome.
Numa noite curta, o chefe me chamou. O fogo fazia sombra no rosto dele.
— Awané, tu guiará eles.
— Por quê?
— Se não mostrarmos por onde andar, vão rasgar tudo sem pedir licença.
E assim fui.
Minha gente me chamava Awané, mas o branco passou a dizer apenas
“guia”. Para eles, eu era quem abria a mata. Para mim, eu era quem pedia
permissão a ela.
Enquanto avançava, sentia a sombra me acompanhar, abria caminho para
outros quando o do meu povo começava a desaparecer. O som das botas deles
abafava o ritmo dos maracás. A terra, paciente, guardava o que não podiam ouvir.
Cada clareira que se abria deixava escapar um canto antigo.
Segui na frente, pedindo à mata que suportasse. Mostrei passagens entre
pedras, contive o peito quando as árvores tombaram sem querer cair. Caminhava
antes da machadada, tentando salvar um tempo que só existia inteiro na minha
memória. Os de fora paravam pouco; queriam passagem rápida, eles não sabiam
ouvir. Cada tronco que tombava arrancava um pedaço do silêncio que nos protegia
e esse vazio se instalava também em mim.
A mata parecia menor a cada dia. E eu também.
Até que chegou o dia em que a terra já não era mais daqueles que nela
viviam. Veio o deslocamento. Essa noite ainda mora dentro de mim.
Anunciaram que seríamos levados “para evitar conflitos”. Fui até a beira do
rio, avisar Naiuru, que moía folhas perto do rio. Ela ergueu o olhar devagar.
— É hoje, filho da trilha?
— É
As famílias começaram a juntar o que podiam. Os homens apagaram as
fogueiras, mas a fumaça insistia em subir, como se quisesse marcar o caminho de
volta. As crianças acordaram assustadas, se agarravam às pernas das mães. As
mulheres recolhiam objetos: cestas, colares, sementes, deixando muito para trás. O
resto ficou entregue ao escuro.
Naiuru caminhava perto de mim. De sua boca saiu um canto antigo, quase
soprado:
— Mã niru… mã seru…
Canto que não impede a dor, mas impede o esquecimento.
Antes de partirmos, Naiuru colocou uma pedra lisa na minha mão.
— Guarda. A terra fala por ela.
Eu fechei os dedos. Levei comigo. Perdi tudo o mais.
Seguimos expulsos, deslocados, calados. Naquele instante compreendi: eu
era o último Caminheiro Puri, porque depois daquela noite não haveria mais
caminhos nossos para guiar.
Dois séculos se passaram. E ainda assim meus passos permanecem na
trilha. Dizem que a serra é a mesma. Não é. Mas ela ainda sabe chamar.
Na tarde em que Mateus decidiu percorrer o velho caminho entre São Pedro
da Serra e Macaé de Cima, nada parecia extraordinário. Caminhava devagar, como
quem tenta respirar diferente. A chuva da noite anterior deixara cheiro de folha
fresca.
No início da subida, ele encontrou uma pedra polida, meio escondida no
barro. Achou bonita. Abaixou-se e a pegou. A palma da mão ficou quente..
— Estranho… — murmurou.
Guardou no bolso e seguiu. A cada passo, algo mudava. O vento soprava
num ritmo que parecia um canto. No alto da trilha, avistou uma mulher parada entre
as árvores, cabelos longos, corpo firme como tronco antigo.
— Tudo bem? — ele perguntou.
Ela não respondeu. Olhou apenas para a pedra na mão dele.
— Você pisa sobre pegadas antigas – disse, com voz que parecia vir da
própria mata.
Mateus piscou. Quando levantou o rosto, ela não estava mais.
O canto de vento ficou mais forte:
— Mã niru… mã seru…
Mateus sentiu o chão tremer não como terremoto, mas como memória. As
sombras formavam passos. Pessoas surgiam entre troncos: homens com cestas,
mulheres carregando crianças, um jovem à frente, o rosto apertado de angústia. Eu.
O susto o fez recuar. A pedra queimou na palma da mão. As imagens se
desmancharam como neblina.. Ao chegar à base da trilha, encontrou o Centro de
Memória recém-aberto. A primeira vitrine guardava uma pedra polida, igual à sua.
Uma pesquisadora aproximou-se:
— Essa pedra é importante. Dizem que guarda memória. Encontramos
muitas nas trilhas antigas.
Mateus abriu a mão.
A dele brilhava, quente, viva.
— Acho que encontrei algo que pertence a esta história.
A pesquisadora sorriu, sem entender por completo.
— A terra fala, quando quer.
Ele respirou fundo. A serra parecia esperar sua escolha. Com gesto lento,
colocou a pedra ao lado da outra. O vento entrou pela janela. Trouxe um canto
distante, quase apagado, mas presente.
A terra lembrava. E alguém, afinal, ouvia.
A carne é fraca
Sob as lentes de um comedido leitor, esta história não pretende agradar. Falo isso
de antemão pois sei que a memória que escolhi contar coloca em risco meu direito ao
prêmio. Por certo, a moral e os bons costumes – que servem para agradar sabe-se lá quem
– não permitirá que esta história seja aclamada. Mas mesmo assim irei escrevê-la, pois
escrever não é sobre agradar. Se o propósito fosse agradar, a narrativa certamente seria
outra. Escrever envolve botar o dedo na ferida, cutucar as chagas e revelar as tortuosas
malárias escondidas sob os panos.
Escrever é, sob certa medida, desagradar. Afinal, qual seria o papel do escritor
senão apontar os refletores justamente para os cantos escuros do quarto? E eis que
pretendo desagradá-los com uma história que muitos gostariam que fosse perdida no
tempo. Mas eu, como escudeiro fiel do público, não posso de vocês esconder essa graciosa
trama. Graciosa por conta de toda a reviravolta que envolve e as nuances de uma
sociedade hipócrita que se pretende expor.
Mas quanto mistério hein? Vamos logo à história.
Marrakech. A envolvente cidade de Marrocos? Não, só a casa das primas ditosas,
localizada em Varginha, atrás da Rodoviária Sul, em Nova Friburgo. É nesta acolhedora
boate da maçã mordida que o rumo da família Oliveira pretendia mudar por completo…
DIAS ANTES…
Ronaldo e Yolanda não sabiam mais o que fazer. Se por um lado, a mulher se
debulhava em lágrimas depois da notícia, o marido – rigoroso que só – pensava em como
contornar a situação de uma maneira mais prática. Não iria aceitar aquilo nem por decreto.
Como iria olhar para os amigos na cidade? Seria alvo de piadas pelo bairro! Quando
passasse no bar da esquina, certamente os colegas comentariam… Que desgosto para um
pai!
─ O que fazemos agora? ─ indaga a esposa, com o rosto inchado de tanto chorar.
─ Uma surra nele será que vai adiantar? ─ sugere, ríspido, com o tom de voz que
chegava dar medo.
─ Também não precisa de tamanha covardia. O padre Francisco disse que
precisamos continuar rezando…
─ Rezar não adianta de nada, mulher! Estamos a um mês fazendo isso e ele não
parece tomar tenência. Não dá pra ficar implorando pro santo, se não fizermos nada pro
milagre acontecer. A gente tem é que tomar uma medida.
─ E que medida? ─ questiona, desesperançosa, expulsando as lágrimas do rosto
com o dorso da mão.
─ Pra ele ficar firme acho que só tem uma saída.
─ Que saída?
O marido anda de um lado para o outro do quarto, tateando os móveis, como se as
palavras certas a usar estivessem escondidas por trás da penteadeira. Quem rompe o
silêncio é a mulher, já conhecendo muito bem a concupiscência que habita o corpo
daquele homem.
─ Você não está pensando em levar nosso filho na…
─ Sim, exatamente isso que está pensando. Se não deu certo com o sagrado, que
dê jeito pelo pecado. Esse menino tem que comer alguma puta pra ver se aprende a gostar
de mulher.
A mãe rejeita de plano a ideia, meneando a cabeça em sinal negativo. Levanta-se
da cama, anda de um lado para o outro, no intuito de ativar a circulação sanguínea das
pernas e ventilar oxigênio no cérebro. Quem sabe aquilo a levasse a alguma conclusão
plausível. Seria uma boa ideia seu marido ir até lá? Cafajeste como era, suspeito demais
dar à raposa um passe livre pra ingressar no galinheiro.
Após alguns longos minutos em que o silêncio pesou sobre as suas cabeças, a mãe
então responde:
─ Okay, Ronaldo, não custa tentar, vai que dá jeito, mas se você me aprontar
alguma…
─ Yolanda, estamos casados desde que esse moleque nasceu. Se você não confiar
em mim…
Justamente por estar casada há anos que Yolanda temia os rumos daquela arriscada
aposta. Todavia, é como diz o ditado: quem não arrisca, não petisca.
SEXTA À NOITE…
Diante do espelho, questionava o charme do reflexo: um blush comedido que
contrastava com o vermelho gritante do batom. As argolas chamativas, o cabelo volumoso
e um colar valioso que havia ganhado de um cliente rico. Não que a ocasião fosse especial
para tanto, mas a chefe não estava muito satisfeita com os ganhos nos últimos eventos,
então precisava escandalizar pra ver se rendia algum aqué1
.
Joga um beijo para sua imagem no vidro e coloca a bolsinha a tiracolo com o
isqueiro e demais itens de primeira necessidade. Apenas o básico. E então Safira vai para
o salão dar (quer dizer, vender) o seu melhor, ou o que sobrava dele.
O salão estava cheio. A profissional gostava de chegar roubando a atenção, quando
o movimento do local já estava agitado. E não foi diferente do que esperava. Assim que
aparece, um homem barbudo, com estilo meio rústico grosseiro a come com os olhos,
mas tenta esconder as intenções. Não que ali fosse o lugar de ser comedido, mas com um
garoto do lado, que parecia um filho, sobrinho ou algo do tipo, talvez o tenha intimidado.
Mas o que os olhos dizem não dá para esconder.
1
“Aqué” é uma gíria da comunidade LGBTQIAPN+ que significa dinheiro. A palavra tem origem em religiões de
matriz africana e é usada em diversas situações para se referir a dinheiro, como: “Cadê o meu aqué?”.
Safira desvia o foco, mas hora ou outra capta a atenção do barbudo novamente em
si, com os olhos ardendo de desejo. Já o moleque em sua cola parecia mais perdido que
calcinha em suruba, como se tudo que visse fosse um espetáculo, típico de um picadeiro.
Restava saber quem era o palhaço…
A chefe já tinha orientado para não ficar tão a mercê dos clientes, principalmente
porque suas colegas de trabalho – as primas ditosas – eram que nem ratazanas sedentas
por admiradores endinheirados, e aquele típico lenhador aparentava ter bala na agulha.
─ Olá, rapazes ─ Safira se aproxima deles com um sorriso ponderado na cara. ─
Desejam uma bebida? A primeira é cortesia da casa.
O homem espera que o menino responda, mas parece ter medo de mulher. O mais
velho franze o cenho, aguardando uma atitude do rapaz, e uma cotovelada é o suficiente
para desengasgá-lo e cuspir a frase:
─ Erh… Acho que pode ser… Será que teria um Cosmopolitan2
? ─ sugere, nervoso,
com receio da desaprovação.
─ Uma cachaça pra ele! ─ atropela o pai. Aquela sim era bebida de homem. ─ E
outra pra mim ─ completa, com um olhar fascinado para o decote avantajado da mulher.
A fala afinada do mancebo já foi suficiente para Safira diagnosticar a situação. Ah,
um desses seria dinheiro mole… Ela, esperta que só, já tinha atendido vários desses casos
e sabia bem como arrancar uma boa grana. Poderia ser uma aliada da causa gay, fingir os
maiores orgasmos, defendendo para o pai que o filho era cabra macho. Afinal, sabia muito
bem que aquilo não tinha jeito. Eles não escolheram ser assim, ou elas nascem assim ou
não3
. Desde que o mundo é mundo isso acontece.
─ Com licença, cavalheiros. Vou providenciar as biritas.
Quando ela se afasta, o pai dá um puxão de orelha no rapaz:
─ Tá com medo de mulher, moleque? ─ briga. ─ Homem tem que ter atitude.
Como espera pegar alguém? Não te trouxe aqui à toa não.
─ Pai, eu…
─ Cala a boca e faz o que eu mandar. Estou achando que a mulher te intimidou
por ser mais velha que você e isso pode realmente te deixar nervoso. Mas podemos
escolher uma outra mais ninfetinha, talvez isso te agrade e deixe menos acanhado. Que
tal aquela ali? ─ aponta, de rabo de olho.
─ Eu acho que…
─ Também acho ela ótima.
2 O Cosmopolitan é um coquetel clássico de cor rosada que se tornou mundialmente famoso por ser a bebida favorita
da protagonista Carrie Bradshaw e suas amigas na série de TV Sex and the City.
3 Referência ao lendário discurso de Hebe Camargo em 1987 no Roda Viva, programa de televisão no qual partiu em
defesa das pessoas homossexuais.
─ A pinga ─ surpreende Safira, voltando com duas doses, uma em cada mão.
Quando entrega a do pai sente o toque áspero de seus dedos demorados demais sobre os
dela. A retina do homem parece arder e o desejo velado se escancara por completo.
─ Obrigado ─ e vira para o garoto. ─ Engole logo isso e vai lá falar com a garota.
Ela está te olhando. ─ E realmente estava.
Com um sacolejo, o filho é arremessado em direção à moça cujo ar era realmente
garboso. Tremendo que nem vara verde, o rapaz infla o peito na tentativa de tirar coragem
dos pulmões e se aprochega à garota. Conversa vai e conversa bem, não demorou muito
que o moleque a convidasse para ir aos quartinhos do segundo andar. Já estava orientado
pelo pai que deveria levar a isca para um canto mais discreto.
Enquanto isso, Ronaldo, que não era inocente nem bobo, gastava a lábia em outro
canto da boate com a interessante Safira. Continuava com um olho no padre e outro na
missa: ora mirava o filho de gracejos com a moça, ora fixava a atenção nos fartos seios
de Safira.
E dali para frente acho que não preciso contar muito como tudo se desenrolou…
DOIS MESES DEPOIS…
Há dias a esposa suspeitava da conduta do marido. Sabia que depois daquela
profética noite em que pai e filho foram ao Marrakesh na tentativa infrutífera de convertê-
lo à heterossexualidade – pois até onde averiguou, o moleque seguia desmunhecando –
que o próprio Ronaldo andava estranho e misterioso.
Primeiro, no dia seguinte ao ocorrido, disse que estava tudo resolvido com o
pirralho. Acrescentou ainda que tinha se certificado com a moça que ele arrastou para o
quarto que o rapaz era cabra macho. Ofereceu até para resgatá-la daquela profissão e
torná-la uma esposa bancada pela família Oliveira.
Entretanto, não foi bem isso que ocorreu, e a moça para quem ele passou a
transferir dinheiro, que disse ser a mãe da jovem, uma tal de Safira, na verdade era a
amante de Ronaldo.
O sultão havia ficado maluco no gingado da odalisca e se apaixonou
perdidamente. Ronaldo desmarcou uma viagem que faria na semana seguinte à trabalho
e alugou um Airbnb em Lumiar, tudo para curtir o final de semana se regozijando com a
nova amada.
O que não esperava era que o gerente do banco ligaria para sua casa e acabaria
por falar com Yolanda, com quem o marido possuía uma conta conjunta. Os gastos com
a pousada alugada foram recusados por algum erro sistêmico no cartão e precisou dar
ciência aos titulares da conta.
Seguido a isso, a mulher começou a rastrear os passos do marido. Para tanto,
ativou a localização de forma oculta em seu celular e tamanho foi o espanto quando
reparou o pontinho azul por tempo demais em Varginha, na mesma rua da boate da maçã
mordida. Inclusive quando a pobre moça que seria a suposta namorada do filho estava na
própria casa dos Oliveira e Ronaldo em Varginha. Por que estaria sozinho lá?
Quando foi confrontado pela esposa, Ronaldo desistiu de mentir. Preferiu mandar
logo a verdade e assumir que não estava mais feliz naquela relação. Achou melhor
terminar. A esposa ficou em frangalhos, mas segurou a mágoa.
─ Sinto muito, Yolanda. A carne é fraca.
─ A carne é fraca mas minha mão é forte! ─ brada, estalando os dedos na face do
marido, e se surpreendendo com a coragem de fazer aquilo.
O brutamontes permanece calado, estático, como se finalmente aceitasse a dor
daquele tapa. Fez por onde. Sabe que mereceu. Teve a pachorra de engolir a situação.
Poderia ser um safado, mas não um agressor de mulheres. Tentou resolver um problema
e arranjou outro. Agora sim seria motivo o suficiente para os comentários do bairro.
E o filho? Continuava viado.
UM ANO DEPOIS…
Já nos quinze primeiros minutos do exaustivo treino, Yolanda e a nova amiga da
academia – também divorciada – conversavam durante a aula de spinning4
. Se alguns iam
para exercitar os músculos, a dupla não desperdiçava a chance de malhar a língua.
─ Acredita que vi o coiso atravessando a rua ontem? Minha vontade foi de acelerar
o carro em cima dele.
A amiga dá uma gargalhada e a própria Yolanda não resiste a rir também. Era tão
gostoso achar graça daquelas idiotices. E pensar que um ano atrás sequer sabia dirigir um
veículo, dependendo do ex-marido para levá-la até o supermercado.
─ Ain, amiga, achei que já tivesse superado…
─ Já superei faz tempo, mas isso não significa que esqueci. Doeu, mas passou.
Sabe que a melhor coisa que me aconteceu na vida foi ganhar um chifre. Um não né, sabe-
se lá qual era o tamanho da minha galhada. ─ As duas riem novamente. ─ Não sabia que
era tão infeliz até descobrir a traição. Precisava ver o quanto aquela vida não me pertencia.
Não me cabia ali, sabe?
─ Sim… É tão bom quando a gente percebe que ali não mais nos cabe. Se para
alguns, antes só do que mal acompanhada, eu prefiro estar mal, do que só acompanhada.
─ E segura na mão de Yolanda na intenção de gerar um consolo.
─ Bora, meninas! ─ O delicioso personal trainer se aproxima e interrompe a
fofoca das alunas. ─ O grandalhão dá um sorriso simpático-até-demais para Yolanda. Se
aquilo não era um descarado flerte, não sei nem dizer o que era. ─ Podem acelerar essa
pedalada aí, quero todo mundo com os músculos fortes aqui.
─ Ai, prof! Mas a carne é fraca…
4 Spinning significa um tipo de exercício aeróbico em grupo que simula o ciclismo, praticado em bicicletas
estáticas (indoor) ao som de música.
Menção Honrosa 🏆
Vida De Cão
1
Era uma vez há muito e muito tempo atrás, um filhote de capivara chamado Cão.
Cão era desengonçado e atrapalhado: sempre se acidentava. Por conta disso, o
passatempo predileto de sua família era caçoar dele. Não… Ainda não existia
conselho tutelar naquela época.
– Cão Estúpido! – Diziam
– Ele nem sabe andar direito! – Dizia a Irmã
– Ele mal consegue ficar em pé nas pedras! – Dizia Catarina, a Mãe
– Ele nunca vai conseguir atravessar o rio! – Dizia o Pai
– Cão Estúpido! – Repetiam, repetiam e repetiam.
Repetiram tanto que se internalizou. Ele passou a questionar a própria
competência. Quando começou a ter pesadelos com rio, decidiu acabar com aquilo:
Precisava tentar se provar. Reuniu toda a coragem que nunca tinha tido e foi
atravessar o tão temido rio.
Mas… era verão, e na cidade que ironicamente um dia se chamaria Morro
Queimado, não parava de chover. As águas estavam violentas. Como era de se
esperar, logo na primeira pedra, Cão escorregou, foi quicando rio abaixo e
carregado pra bem longe pela correnteza.
Acordou numa pequena cabana, por um forte aroma de chá de hortelã. Tinha sido
resgatado por uma senhorinha nariguda que usava um chapéu pontudo. Ela tratou
suas feridas com um unguento bem nojento e o alimentou com uma sopa bem
quietinha de batata baroa.
Duas maravilhosas semanas se passaram enquanto Cão recobrava suas forças. A
senhorinha também tinha resgatado um gatinho perneta e uma cabra cega. Eles
brincavam o dia inteiro num pomar exótico e ninguém proferia palavras de
zombaria. Mas antes que cão pudesse se esquecer de sua infância problemática,
ouviu-se ao longe:
– Cão!? Cã-ão!?
Era Catarina, sua mãe.
2
Sua família não ficou nada satisfeita com a boa ação da senhorinha. Detestavam o
cheiro de hortelã, odiavam o gosto de batata baroa, mas o mais repugnante mesmo
era Cão com amigos e sorrindo. Aquilo não… Era inadmissível! Levaram Cão à
força embora e ele teve que voltar pra sua vida de… Cão.
Voltando pra casa, ele percebeu que as coisas estavam diferentes. Sua família tinha
mudado o foco. Não falavam mais de Cão… O assunto agora, era outro.
– Bruxa Má! – Diziam
– Ela tem um narigão cheio de verrugas! – Dizia o Pai
– Ela veste aquele chapéu pontudo horrendo! – Dizia a Mãe
– Ela mora no meio do mato com aqueles animais delinquentes! – Dizia a Filha
– Bruxa Má! – Repetiam
E assim, Cão aprendeu com a família, que se a colheita não era satisfatória, a culpa
era da bruxa. Se fizesse muito calor ou muito frio, a culpa era da bruxa. Se alguém
espirrasse, a culpa era, sem dúvida, da bruxa. E quando o pai teve uma crise de
soluço:
– Bruxa Má! – Disse Cão automaticamente
Há de se pensar que Cão se arrependeria de acusar sua salvadora de tantas coisas
banais… Mas também há de se lembrar que Cão nunca pertenceu em sua própria
família. Ao menos até falar essas palavras. Se não pelo amor, se uniram pelo ódio.
O mantra tanto se repetia que foi parar nos ouvidos do Imperador. Irado pela
diminuição dos impostos recebidos nos últimos anos, não teve dúvida. Chamou a
maior guerreira da região, a grande Caledônia, e foram visitar a família de Cão pra
sabe onde a tal bruxa morava. A família ficou em êxtase. Finalmente alguém daria
um basta naquela situação e a bruxa teria o que merecia.
3
Planejaram um ataque em três frentes, deixando a bruxa só com uma mata fechada
e inacessível como opção de fuga.
Por trás viria a grande guerreira Caledônia. Astuta como era, chegaria sem fazer
nenhum barulho, mantendo o elemento surpresa.
Pela lateral, a estrada mais fácil, iria o Imperador (principalmente porque não
estava lá com grande físico, mas ninguém achou prudente mencionar)
Pela frente investiria a família: Pai, Mãe e Filha, esta carregando duas pedras. E
por último, o Cão.
Foi um verdadeiro massacre. O pomar exótico foi todo pisoteado, destruído. A
cabra que estava amarrada numa das árvores, tentou correr e morreu enforcada. A
cabana, incluindo o gatinho lá dentro, pegou fogo. A bruxa, agarrada ao seu chapéu
estava chorando, atirada no chão e cercada.
Quando ela finalmente olhou pra cima, pra encarar seus agressores, seu olhar se
encontrou com o de Cão. Tamanha foi a dor ao reconhecer aquele que antes ela
considerava um amigo, que a bruxa urrou, e toda floresta se pôs a falar.
– Cão Estúpido! – As folhas e galhos diziam
Cão, apavorado, correu numa fuga frenética, mas as vozes ainda pareciam
acompanhá-lo.
– Todos virarão pedra! – Veio a voz da cabra
– Mas você terá que observar – Veio a voz do gato
– Pra todo o sempre! – Veio a voz da bruxa
– Cão estúpido! – Repetiram
Ouviu-se um grande baque e a primeira e única maldição daquela “bruxa” foi
lançada.
Só restou o Chapéu da Bruxa.
Ao seu redor, a grande guerreira Caledônia, o Imperador, a família de Catarina:
Pai, Mãe e Filha. As Duas Pedras rolaram pra longe.
E no fundo, condenado a sempre ver o mal que causou, o Cão, Sentado.






